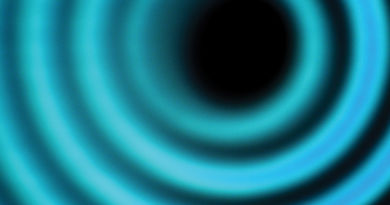Christian de Castro: o solucionador
Assim como a política audiovisual contemporânea brasileira, a carreira de Christian de Castro no cinema ganhou impulso durante o 3º Congresso Brasileiro de Cinema (CBC), ocorrido em Porto Alegre, no ano 2000. Durante o evento, marco da chamada repolitização do cinema brasileiro, Castro, que já vinha ajudando o irmão Erik na captação de recursos para curtas-metragens e documentários, sentiu que havia chegado a hora da virada – do cinema brasileiro e sua. “Durante aquele final de semana, ficou muito claro para mim que aquilo era o início de um processo. O CBC reforçou minha decisão de entrar no mercado pra valer”, diz o hoje diretor-presidente da Agência Nacional de Cinema (Ancine), nascida a partir daquela mobilização.
Engenheiro de formação – Castro cursou Engenharia Aeronáutica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e se formou em Engenharia de Produção na UNIP –, o novo comandante da Ancine começou a vida profissional no mercado financeiro. Após uma década atuando em bancos, foi fisgado pelo cinema. A aproximação com os filmes se deu a partir do irmão, o diretor Erik de Castro (“Federal”, de 2010; “Senta a Pua!”, de 1999), que o convenceu a associar-se a ele na produtora BSB Cinema.
Apesar de, no cinema, arte e indústria serem faces de uma mesma moeda, Castro, por aptidão e por gosto, sempre apostou no mesmo lado da moeda: o do cinema como negócio. Ao longo de toda a sua trajetória no audiovisual, ele foi movido pela ideia de desenvolver uma indústria, de aprimorar a gestão das empresas do setor e pela tentativa de atrair capital para uma atividade que, no Brasil, é marcadamente dependente dos recursos públicos. Agora, porém, sua função não é mais fazer uma empresa operar no azul. E, sim, fazer política pública.
Castro chegou à Ancine por indicação do ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Seu mandato, de quatro anos, vai até outubro de 2021. Fortemente identificado com o cinema de resultados, o novo chefe da agência procura, apesar da incontornável queda pelos números, dizer que não deixará em segundo plano, em sua gestão, o cinema dito de arte. Ao contrário. Mas, mesmo nesse caso, ele não desconsidera a matemática financeira dos projetos.
Nesta entrevista, Castro, dono de uma fala calma, e dado à escuta, falou sobre seus principais objetivos e desafios à frente da agência, especialmente os novos usos dos recursos do FSA em linhas que favoreçam os filmes brasileiros para competição no mercado internacional.
Revista de CINEMA – Você me contou, brevemente, que participou do 3º CBC em 2001, onde nasceu a semente da Ancine; no fundo, onde tudo isso que temos hoje começou. Por que você foi ao CBC de Porto Alegre? Que memória você guarda do encontro e que sensação o encontro deixou em você?
Christian de Castro – Nessa altura, eu tinha saído do mercado financeiro e me tornado sócio do meu irmão [Erik Castro] na produtora dele, em Brasília. Eu o ajudei a levantar os recursos para os curtas-metragens e para o primeiro documentário que a gente fez, o “Senta a Pua!”. Quando ele me convenceu a embarcar nesse negócio, eu fui estudar, fui tentar entender o mercado onde estava entrando. Exatamente no momento em que tinha tomado a decisão de ir para os Estados Unidos estudar o funcionamento do mercado de cinema fora do Brasil, surge a organização do CBC, que tinha o objetivo de reposicionar o cinema brasileiro. Eu achei importante ir, participar, porque estaria todo mundo reunido num mesmo lugar, em Porto Alegre; eu imaginei que haveria uma convivência intensa. Acabei conhecendo ali o Mario Diamante, o Leopoldo Nunes, o Manoel Rangel… A sensação que eu tive é que aquele era realmente um momento de virada. Lembro muito daquele último dia, com a leitura da carta que foi fechada para ser encaminhada ao presidente da República e acabou dando origem ao Gedic [Grupo Executivo para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica] e que terminou na MP 2228-1 [de 2001, que estabeleceu as bases legais da política audiovisual brasileira e criou a Ancine]. Me marcou a robustez dos pontos elencados. Durante aquele final de semana, ficou muito claro para mim que aquilo era o início de um processo. Então, o CBC reforçou a minha decisão de entrar no mercado pra valer. Depois daquilo, fui para fora do país. Fiz uma série de cursos para entender a história do financiamento do cinema independente nos Estados Unidos e fui para o mercado de festivais da Europa, como Rotterdam, Berlim e Cannes. Esse conhecimento do mercado internacional e o fato de ter participado daquele Congresso me deram a certeza de que eu queria tocar a vida no cinema.
Revista de CINEMA – Você teve contato, em Porto Alegre e nos Estados Unidos, com duas diferentes formas de existência do cinema. Já no CBC, você identificava algum ponto cego da política de cinema do Brasil?
Christian de Castro – Aqui [no Brasil], já ficava clara a grande dependência do Estado – naquela época, a dependência era da Lei do Audiovisual, que já rodava com o Art. 1º e o Art. 3º. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, não só nos Estados Unidos, mas na Europa: como os projetos nascem. Há uma estruturação mais elaborada, há empreendedores mais estruturados, com uma carteira de projetos, e há um mercado que já envolvia a televisão. No mercado internacional, a televisão sempre jogou um papel importante. Aqui no Brasil, os projetos estavam ainda muito apoiados na Lei de Incentivo [Fiscal] e no cinema, exclusivamente, sem a presença da televisão.
Revista de CINEMA – Em 2006, você criou o Funcine RB Cinema 1, administrado pela Rio Bravo. Pelo que eu sei, o fundo, inicialmente, colocou dinheiro em quatro longas-metragens (“O Maior Amor do Mundo”, “Querô”, “O Ano em que meus Pais Saíram de Férias” e “Desafinados”) e só o filme do Cao Hamburger deu retorno financeiro. O que você entendeu nesse processo? Por que é tão difícil a conta fechar?
Christian de Castro – Houve vários investimentos numa carteira de filmes, e o filme do Cao foi o que teve resultado financeiro por causa das vendas internacionais. Ele [“O Ano em que meus Pais Saíram de Férias”] participou do Festival de Berlim e sua venda internacional proporcionou um retorno importante. O que acontece? O que eu percebi, e trago até hoje, é que a barreira de entrada no cinema é muito grande. Temos poucas salas de cinema e a competição é muito forte, não só com o filme norte-americano, mas com o filme independente global. A gente, no Brasil, tem uma sala de cinema para cada 70 mil habitantes. Na Argentina, é uma para 30 e poucas mil pessoas; no México, uma para cada 25 mil pessoas. Quer dizer: se o Brasil dobrar o número de salas de cinema, fica entre Argentina e México. E temos, aqui, salas muito concentradas. Só 8% dos municípios brasileiros têm cinema, ou seja, a capilaridade é pequena e a competição com o filme internacional é pesada. Esse é um ponto.
De outro lado, temos de pensar na relevância que o mercado internacional tem para uma obra. Então, tentar equilibrar essas duas coisas [os mercados interno e externo] é o que pode dar alguma possibilidade de sustentabilidade. Na época, na carteira de investimentos da Rio Bravo, a gente decidiu criar a [distribuidora] Vereda para, exatamente, trabalhar a presença internacional dos filmes. Mas é um trabalho complexo. Leva tempo, é caro e depende de um portfólio constante de filmes de qualidade que cheguem lá fora. E esse é o ponto no qual eu acredito que estamos hoje. Eu acho que, depois de uma política de investimentos do FSA nas coproduções com América Latina e Europa, a gente passou a ter uma consistência de produção de filmes brasileiros que atacam o circuito de arte global e, sobretudo, europeu, de maneira relevante. Temos uma safra muito boa de filmes que se inserem naquilo que se chama da art house internacional. Chegamos nesse lugar graças a uma política consistente que foi feita visando isso. A minha questão é que, apesar da gente estar bem estabelecido, eu acho que falta ir para um outro nível. Precisamos ter uma maior diversidade de filmes com um valor de produção mais alto atacando esse mercado e sendo competitivo internacionalmente.
Revista de CINEMA – Você fala em atrair dinheiro privado para o cinema e em internacionalização. Mas ambas as ideias são antigas e recorrentes. A crença no dinheiro privado marcou as iniciativas industrializantes da década de 1950, e mesmo a Lei do Audiovisual apoiava-se na crença de que as empresas teriam interesse em investir em filmes – e nem com a renúncia fiscal de 100% isso se efetivou. Já a defesa do mercado internacional como forma de garantir a sustentabilidade do filme de arte, remonta ao Cinema Novo e à própria Embrafilme. Por que agora o dinheiro privado chegaria de fato? Por que conseguiríamos vendas internacionais significativas? O que mudou? É a tecnologia que torna isso possível?
Christian de Castro – Para mim, são algumas coisas. Primeiro, a tecnologia, as múltiplas plataformas e o mercado global. A gente pode trabalhar globalmente os conteúdos. O Brasil, até a Lei 12.485 [a lei do Serviço de Acesso Condicionado, de 2011], não tinha a possibilidade de uma produção de escala nas empresas produtoras – as únicas que tinham escala eram as que produziam publicidade. A partir do momento em que a TV entrou no jogo e as produtoras, potencializadas pelo FSA, ganharam escala, passou a existir um processo de produção e o empreendedor do audiovisual passou a saber lidar com diferentes tipos de conteúdo e conversar com diferentes clientes e mercados. Mas isso tudo acontece de maneira travada, com todos os mecanismos de controle que foram estabelecidos na largada e ainda se procurando entender o que é demanda e onde se investe. De toda forma, já se tem um resultado muito efetivo, na quantidade de filmes e na produção para a televisão, em diferentes gêneros. Ou seja, já há uma maturidade nessa indústria. E a transformação que a gente pretende imprimir, com o FSA 2.0, vai nos levar para um outro nível. A gente vai conseguir trabalhar de maneira mais rápida, investindo mais recursos, em mais projetos e dando uma maior previsibilidade para a execução financeira e física do projeto. Quando a gente faz isso, do ponto de vista da previsibilidade do investimento, num mercado que é “demandante”, eu acho possível que o privado venha, que o mercado rode. O mercado já está rodando, tanto que os filmes e as séries que dão dinheiro, viajam, circulam e dão retorno. O que eu acho é que a gente precisa acelerar. A partir do momento em que a gente acelera, dá valor de produção e começa a ter uma diversidade maior de gênero – o gênero viaja mais e é mais competitivo internamente –, a gente entra num círculo virtuoso. Eu acredito que vale a pena a gente testar isso do ponto de vista da produção, mas também com o fundo investindo mais na comercialização, entrando no P&A [do inglês, print and advertising] dos projetos.
Revista de CINEMA – Você falou em mercado demandante, e imagino que se refira às novas plataformas. Mas a gente tem um número imenso de longas-metragens sendo produzidos que enfrentam, justamente, a falta de demanda. Dos 140 longas-metragens lançados em 2016, 97 foram vistos por menos de 10 mil pessoas; há também uma desproporção entre o aumento no número de produções e a ocupação de mercado. Como você analisa essa desproporção? A política, nesse sentido, fracassou?
Christian de Castro – A demanda a que eu me refiro é essa demanda que existe com as multiplataformas, e que inclui desde o que vem aí do digital até a televisão, que é um demandante grande. Para o cinema, a gente continua produzindo e eu vejo a possibilidade de um mercado não só aqui como fora. No mercado local, essa quantidade muito bacana de filmes que a gente vem fazendo possibilitou a entrada de novos criadores na produção e espalhou a capacidade de produção pelo Brasil. Mas eu acho que nem todo filme tem efetivamente a vocação para a sala de cinema, ainda mais num mercado apertado como o mercado brasileiro.
Revista de CINEMA – Na situação atual, o filme pequeno acaba por tirar espaço do outro filme pequeno.
Christian de Castro – Exatamente. Esses filmes acabam mais competindo entre si do que ocupando o mercado. Então, a vocação de boa parte dessa produção é a televisão ou as outras janelas, indo para o digital. O digital é um mercado de nicho, de oferta, onde se acessa boa parte do conteúdo que, efetivamente, não tem espaço para ser exibido ou tempo para ser assistido. Quando você fala no que deu errado, o que eu penso é que, nos últimos anos, houve pouco investimento na comercialização efetiva dos filmes.
Revista de CINEMA – Há um dinheiro do FSA para a distribuição.
Christian de Castro – Mas quando falo de investimento na comercialização, eu não falo só dinheiro na comercialização, mas numa inteligência na análise para entender como eu distribuo, onde, com que tamanho. Tem certos cases de filmes brasileiros que dão certo, que são distribuídos de maneira empírica, como o “Cine Hollywood”, que começou com um lançamento no Nordeste, foi ganhando corpo e veio crescendo em cima de uma intuição do distribuidor. Esse filme acabou criando um modelo de distribuição, e foi seguido por “Os Parças”, que conseguiu se comunicar muito bem regionalmente e teve ótimos resultados. Isso é inteligência na comercialização e na colocação do produto. Como esse é um mercado de alto risco e a competição é grande, e muito desse investimento do distribuidor é feito com capital próprio, o filme, às vezes, não entra tão forte por conservadorismo, por falta de uma inteligência a respeito disso. E isso a gente só consegue fazendo. Nos últimos anos, só 4% do FSA foi investido em comercialização, 10% em desenvolvimento e o resto em produção. Para ir para o mercado, para gerar o awareness, o interesse público, nesse mercado supercompetitivo, você precisa ter um volume de investimento em P&A e precisa ter inteligência para fazer valer cada real. Nesse novo modelo do FSA, a gente vai procurar gerar mais inteligência e trabalhar mais perto do produtor e do distribuidor, no processo de dimensionamento, da construção de estratégia.
Revista de CINEMA – Como se dará esse modelo?
Christian de Castro – O FSA passa a ter uma opção de investimento no P&A, e o produtor passa a ser obrigado a mostrar o filme para o comitê gestor, quando ele fica pronto. Caberá ao fundo decidir investir em até 50% do P&A. Parte dos R$ 30 milhões anunciados para a comercialização ainda vão para aquela linha que destina R$ 100 mil e R$ 200 mil para a distribuição, mas R$ 25 milhões serão aplicados nesse novo formato.
Revista de CINEMA – Interessarão tanto filmes grandes quanto pequenos?
Christian de Castro – Isso. É constituição de carteira. Um filme menor, colocado de forma inteligente no mercado, tem mais potencial de retorno sobre esse investimento do que um filme grande, no qual o risco é mais concentrado. A ideia é diversificar o investimento, entendendo as diferenças entre os projetos apresentados e pensando em estratégias para o ambiente de distribuição digital.
Revista de CINEMA – Você vai enfrentar, no cargo, um importante desafio regulatório, que é o do vídeo sob demanda. A discussão do momento é como cobrar a Condecine? As cotas estão mesmo descartadas?
Christian de Castro – Hoje, a principal discussão no âmbito do Conselho [Superior de Cinema] é como se dará essa cobrança da Condecine. Se apresentou uma proposta inicial em cima de faturamento e uma segunda que propunha a cobrança por blocos de títulos. Os players continuam debatendo, mas ainda não se chegou a um consenso. A cota, neste momento, não está na pauta imediata. A minha visão particular é que, para falar de cota, a gente precisa conhecer melhor esse mercado, entender como o produto brasileiro circula a partir desses mecanismos e já ter estabelecido, de maneira segura, a Condecine dentro desse ecossistema. O que continua em pauta é a questão da proeminência do conteúdo nacional, que pode vir de diferentes formas. Da mesma maneira que existe hoje o Art. 39 da Lei do Audiovisual, a gente pode pensar em descontos na cobrança de Condecine se o pagador investir em coproduções ou licenciamento de obra independente nacional ou mesmo em tecnologia de plataformas independentes no universo do VOD. O trabalho que vem sendo debatido se dá no nível da proeminência.
Revista de CINEMA – Quando você foi indicado para a presidência da agência, se discutiu, no setor, o quanto a Ancine era uma agência de Estado ou de governo. Você, afinal de contas, foi uma indicação do ministro Sérgio Sá Leitão. Para não ser injusta, eu lembro aqui que, quando o PT chegou ao poder, em 2003, também houve um movimento para que o diretor-presidente fosse alguém próximo do partido. Mas isso não invalida a pergunta: a Ancine pode ser considerada independente do governo?
Christian de Castro – É público e notório que eu e o ministro temos um grande alinhamento de pensamento e de visão de mercado. A gente se conhece há bastante tempo, já trabalhamos junto tanto no público, aqui na Ancine e na RioFilme, quanto no privado. Por isso, acabou acontecendo o convite e a indicação. Isso é uma coisa. Agora, a independência em relação à condução, para onde vamos, é outra coisa. A Ancine é uma agência independente, com diretores com mandato. Eu tenho um trabalho para executar com um horizonte de quatro anos. Essa independência é claro que existe, sempre em harmonia com o mercado interno. Eu converso com todos. O diálogo e a transparência são a base do meu trabalho para promover a desburocratização.
Revista de CINEMA – E o que virá primeiro de novidade na sua gestão?
Christian de Castro – Esse primeiro investimento do FSA ainda é relativo ao ano anterior [lançamento de novos editais do FSA em cinema e TV no valor de R$ 471 milhões]. As novas chamadas públicas trazem mudanças importantes nas operações do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), geridas pela Ancine, garantindo mais agilidade e transparência aos processos. No final de abril, a gente vai ter um outro anúncio que já diz respeito ao orçamento deste ano e que apresenta a política como um todo, incluindo investimento em infraestrutura tecnológica relacionada ao audiovisual – para empresas que trabalham com realidade virtual aumentada, produção, efeitos especiais, games –, capacitação e possibilidade de investimento em empresas. A gente quer inserir a tecnologia de uma maneira mais decisiva nessa conversa com o conteúdo e o entretenimento. E, a partir do momento em que a gente acelera o fluxo dos recursos para a produção [ou seja, aumenta a distribuição de recursos via fluxo contínuo, reduzindo os processos seletivos], a gente libera gente aqui dentro para analisar investimentos em outras linhas.
Revista de CINEMA – É bastante coisa.
Christian de Castro – Vamos lá. Acelerando. A gente tem que entrar na velocidade do mercado. Então, vamos pra cima, não dá para ficar parado. Historicamente, a gente não tem usado metade do dinheiro do FSA. Vamos botar esse dinheiro pra rodar.
Por Ana Paula Sousa