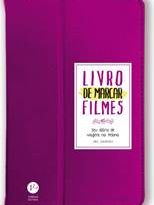Spcine é tema de livro que reflete sobre a relação entre audiovisual e democracia
Por Maria do Rosário Caetano
O livro “Depois da Última Sessão de Cinema – Spcine, Audiovisual e Democracia”, organizado por Alfredo Manevy e Fábio Maleronka, será lançado nessa terça-feira, 3 de agosto, com debate virtual.
O próprio Manevy, que foi o primeiro presidente da Spcine, debaterá os oitos anos de atividade da instituição voltada ao fomento e difusão do audiovisual brasileiro com dois ex-presidentes, o produtor Maurício Ramos e a cineasta Laís Bodansky. A atual titular Viviane Ferreira, diretora de “Um Dia com Jerusa”, completa o time.
O debate on-line acontecerá à 19h30 e poderá ser acessado pelo canal da Editora Autonomia Literária, pela Livraria Blooks e pelas redes da própria Spcine. Outras mesas serão realizadas para ampliar reflexões em torno de ideias trazidas, no livro, pelos dois organizadores e por 40 entrevistados. Entre eles, as cineastas Tata Amaral, Anna Muylaert, Laís Bodanzky, Beatriz Seigner, Maíra Bühler e Vivianne Ferreira, os diretores Ugo Giorgetti, Fernando Meirelles, Kleber Mendonça Filho e duas dezenas de produtores, gestores culturais, diretores de festivais e exibidores. Entre eles, Renata Almeida, da Mostra SP, Ailton Krenak, da Bienal de Cinema Indígena, Adhemar Oliveira, do Espaço Itaú de Cinema, e André Sturm, do Petra Belas Artes.
Uma das mesas, programada para o dia 31 de agosto, reunirá Mariza Leão, produtora e ex-gestora da Riofilme, espécie de irmã mais velha da Spcine, Debora Ivanov, ex-diretora da Ancine (Agência Nacional de Cinema), e a realizadora Tata Amaral (“Um Céu de Estrelas”).

“Depois da Última Sessão de Cinema” é um projeto editorial que reuniu diversas cabeças para pensar o fazer cinematográfico no município de São Paulo. E também formas de distribuição (como os vinte CEUs – Centros de Educação Unificada), mecanismos de facilitação de filmagens ambientadas na maior (e mais agitada) metrópole da América do Sul, e – seu maior desafio – uma almejada (e generosa) democratização do uso dos espaços urbanos por todos os cidadãos, sejam moradores da periferia ou do centro.
A empresa paulistana de cinema foi criada por lei votada pela Câmara de Vereadores de São Paulo, em 2013, durante a gestão de Fernando Haddad na Prefeitura. Três de seus artífices – o arquiteto Nabil Bonduki, o gestor Juca Ferreira e o professor universitário Alfredo Manevy – somaram-se a cineastas, produtores e técnicos para conceber projeto que buscaria “plena harmonia entre o fazer cinematográfico e o desejo de dar fim à cidadania estrangulada”.
Pesquisa sobre o consumo cultural dos moradores da capital paulista, realizada há quase uma década, mostrara que 30% deles nunca havia entrado numa sala de cinema. Constatou-se, também, que a população periférica não dispunha de redes culturais (livrarias, cinemas, teatros etc). E, no campo cinematográfico, emergiram constatações óbvias: filmes – em especial os de arte e ensaio – apoiados com dinheiro público não dispunham de telas (os multiplex continuavam arredios ao produto brasileiro) e a população não mostrava nenhuma tolerância com filmagens que paralisassem ruas. E mais: não havia serviços digitais de difusão de filmes.
A recém-criada Spcine enfrentou todos estes problemas. Apoiou a reabertura do Cine Belas Artes, complexo de salas muito estimado pelos paulistanos, implantou cinema em vinte CEUs (com equipamento de alta qualidade técnica), criou a São Paulo Film Commission (para atrair filmagens internacionais e nacionais e facilitar o diálogo com a população). E, por fim, implantou a Spcine Play, rede de streaming. No – utópico? – desejo de integrar periferia e centro, a empresa promoveu seus primeiros avanços. Mas há, ainda, muito a se fazer.
Manevy conta, em texto introdutório do livro, que havia “reclamações de moradores, vizinhanças, grupos de indivíduos e políticos eleitos por este discurso de que filmar nas ruas era uma ameaça à ordem, ao trânsito, à paz social”. Depois de muito diálogo e da criação da SP Film Commission, “a situação melhorou”. Entre maio de 2016 e fevereiro de 2018, “foram emitidas 736 autorizações e 3.327 locações da cidade foram cenário de filmagens”.
Em sua entrevista ao livro, Fernando Meirelles lembra dos esforços envidados para fechar avenidas, ruas e praças paulistanas para as filmagens de “Ensaio sobre a Cegueira” (2008), adaptação do livro de José Saramago. Houve muita reclamação e incompreensão de moradores.
Hoje, a O2, produtora do diretor de “Cidade de Deus”, vem dedicando-se, mais que à publicidade, à produção de séries de TV para operadoras como a Netflix, HBO, Amazon e Globo Play. Ele testemunha que o diálogo tornou-se bem mais fácil graças à SP Film Commission.
O texto introdutório de Manevy, intitulado “No Olho do Furacão”, percorre a história das políticas culturais na cidade de São Paulo, indo dos esforços de Mário de Andrade no Departamento de Cultura (anos 1930), passando pela criação da Cinemateca Brasileira (1956), pelos cursos de Cinema da USP, Faap e Unicamp e pela maratona anual proporcionada pela Mostra Internacional de Cinema, até chegar à criação da empresa de fomento cinematográfico (Spcine).
Fábio Maleronka toma caminho mais cinematográfico em “Um Trailer”. Seu texto, de saborosa leitura, é uma declaração de amor ao sonho utópico de ver nossos filmes em muitas telas, com salas (escolas ou praças) lotadas. Em certo momento, ele, que atuou na gestão cultural nos governos Lula (e Haddad), lembra que “a Prefeitura tem 104 espaços culturais sob sua gestão, sem contar os espaços informais, como coretos e praças”. E que tais equipamentos chegam a “178 quando considerados aqueles sob gestão compartilhada ou em parceria, como os CEUs, Pontos de Cultura e Bosques de Leitura”.
Dois nomes ganham espaço nobre no texto de Maleronka: Fernando Faro (1927 – 2016), “o mago do registro audiovisual da música brasileira”, e o cineasta Eduardo Coutinho (1933-2014). Ao primeiro, o autor presta homenagem por causa de seu programa “Ensaio”, patrimônio da TV Cultura. “O Ensaio tornou-se mítico por seu formato inovador, que valorizava o tom informal, às vezes errante, das conversas com o músico”.
Eduardo Coutinho é lembrado por “levar seu método próprio de conversa para o cerne do seu jeito de filmar” e por “assumir o erro como parte de seu processo de fazer cinematográfico, diferenciando conversa e entrevista”. Sendo que a primeira seria “a base de seu filme, um encontro feito, sobretudo, com pessoas comuns que se abriam sobre histórias privadas”. Já “a entrevista, ele creditava a um lado jornalístico, de depoimento, talvez mais voltado para especialistas que tinham que defender algum ponto de vista”.
As sequências que recheiam seu “trailer” (impresso em papel e composto com fragmentos de onze filmes) pertencem a “Boleiros 1”, “Carandiru”, “São Paulo S.A.”, “Bandido da Luz Vermelha”, “Eles Não Usam Black-Tie”, “Elevado 3.5”, “O Menino e o Mundo”, “Minha Mãe É uma Peça 2”, “Que Horas Ela Volta?”, “Bingo, o Rei das Manhãs” e o curta “Carne”. Entre uma evocação e outra desses trechos de filmes, nos deparamos com sábias reflexões de Maleronka.
Uma delas lembra que a Spcine “nascia com um propósito mais amplo que o de uma de suas inspirações – a carioca Riofilme”. A empresa paulistana “atuaria na qualificação da cadeia produtiva do audiovisual para além da produção e distribuição. Também na formação de público, na instalação de um circuito de salas, na implantação de uma plataforma para novas mídias e no fomento aos produtores via editais”.
Em seu trailer de um (suposto) filme, que se inspiraria no livro organizado com Manevy, Fábio Maleronka se mostra um excelente montador/editor. São primorosos os trechos de nove longas-metragens, um média e um curta, todos filmados na grande São Paulo, por ele escolhidos. Só “Minha Mãe é uma Peça 2” se passa, majoritariamente, em Niterói. Mas tem antológica sequência filmada no Mercado Municipal de São Paulo.
Vale destacar, desse conjunto de filmes, justo o protagonizado pelo ator e roteirista niteroiense Paulo Gustavo (1978-2021): “Minha Mãe é uma Peça 2”.
Maleronka selecionou uma das melhores (senão a melhor) sequência (foto abaixo) do mais substantivo dos filmes da Trilogia Materna. Aquela em que Dona Hermínia (Paulo Gustavo), a mãe extremada, anda com a filha Marcelina (Mariana Xavier) por entre barracas do aromático Mercado Municipal: Marcelina comenta, em tom blasé: “É que aqui em São Paulo o pessoal é muito mais ligado em cultura. Em arte!”. Dona Hermínia, com sua língua ferina, retruca: “Marcelina, é que aqui não tem praia. Se tivesse praia, isso aqui estaria vazio”.
Para conhecer melhor os propósitos e conceitos que embasaram “Depois da Última Sessão de Cinema – Spcine, Audiovisual e Democracia”, a Revista de CINEMA conversou com Alfredo Manevy, coordenador da implantação da empresa, além de seu presidente de 2014 a 2016. Ele foi, também, secretário-executivo do MinC, de 2008 a 2010. Doutor em Audiovisual pela USP (com tese sobre Jean-Luc Godard), Manevy integrou o grupo que editou a revista Sinopse e, hoje, é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Fábio Maleronka também participou da conversa.
Revista de CINEMA – Não entendi o título principal do livro (“Depois da Última Sessão”). Por que evocar a sessão derradeira? A Spcine nasceu dentro de projeto de integração da cidade, de retomada dos espaços públicos por todos os munícipes. No entanto, após a última sessão há tão poucos paulistanos nas ruas e avenidas! Não seria mais instigante o “Depois da Sessão de Cinema”?
Manevy – A ideia foi um título mais aberto que trabalhasse tanto com o sentido simbólico da conversa depois de uma maratona de filmes, como a questão também da crise do cinema…, porque sempre se fala no fim do cinema… e sempre tem um depois. Um depois do fim. Um recomeço. O livro trata desse aspecto cíclico da construção de políticas para o cinema. Dos fins e das novas vidas da ‘linguagem cinema’.
Em momento de tanto desalento político, todos os esforços de implantação de políticas públicas parecem ter sido em vão. E, para agravar, veio a pandemia, uma tragédia para o cinema. E, nesse momento em que os serviços de streaming reinam soberanos, o serviço digital da Spcine (o Spcine Play) segue acanhado. Ou não?
Manevy – A Spcine foi a primeira a propor e colocar na rua um streaming público. De certa forma, ele tornou-se inspiração para outros como o Sesc e Itaú. E veio, também, antes de muitos outros streamings privados brasileiros. Em geral, quando o poder público é pioneiro e inova, antes do setor privado, não há muito reconhecimento. E isso acontece porque há hoje um esforço em propagar o mito de que o setor privado é sempre o foco da inovação. Isso é falso, uma ilusão rasteira. É o SUS (Sistema Unificado de Saúde) que está vacinando milhões de pessoas e salvando muita gente, por exemplo. Houve esse pioneirismo da Spcine, mas sempre soubemos que o reconhecimento viria das pessoas que usam o serviço das salas e do streaming. Não acompanho a programação atual, porque tenho tido pouco tempo para acessar todas as plataformas e festivais virtuais, que são muitos.
Houve quem se negasse a falar ao livro? Maleronka diz, no texto introdutório “Um Trailer”, que “alguns preferiram não dar entrevista a este livro por discordar das visões um do outro”.
Manevy – Todo mundo topou com enorme boa vontade. O problema é que queríamos falar com uma centena de pessoas e vimos que o livro ficaria gigantesco. Um processo coletivo como esse precisava de uma narrativa polifônica e até contraditória. O livro manteve essas contradições, diferenças de visão e entendimento da relação entre cinema e cidade. Visões de gerações diferentes, de posições políticas e até partidárias bem distintas.
Os documentários que Ugo Giorgetti realizou com técnicos paulistanos foram produzidos pela Spcine. Esta série sofreu solução de continuidade?
Manevy – Os documentários sobre os trabalhadores do cinema foram, sim, produzidos pela Spcine e isso aconteceu na minha gestão. Giorgetti nos propôs um registro da memória oral dos técnicos do cinema. Era um projeto essencial, muito importante.
Você e Maleronka destacam a criação de circuito de exibição (o dos vinte CEUs) voltado, primordialmente, ao cinema brasileiro e de outras geografias, que não a anglo-saxã, hegemônica. Mas tal circuito já estava programando blockbusters, mesmo antes da interrupção provocada pela pandemia. Por que usar dinheiro público para exibir blockbuster?
Manevy – Sempre exibimos blockbusters nos CEUs. Desde o início, sabíamos que precisávamos atrair uma população jovem, excluída pelos altos preços cobrados nos cinemas dos shopping centers. Era esse o público alvo, mas é claro com a meta de formar esse público em geral sujeito apenas ao filme norte-americano. Abrir o leque. Oferecer uma programação e projeção de ponta. O segredo da programação é atrair com o filme de terror, e oferecer em seguida um filme brasileiro ou argentino. Ou europeu. Deve-se levar em conta que 30% da população das classes D e E em São Paulo nunca foi ao cinema na vida, e é com esse público que o projeto está dialogando também. Obviamente não se pode ter só filmes norte-americanos, mas um percentual (feito com boa seleção, claro) é necessário, porque o jovem de classe média tem acesso, e o periférico, não. Reforçar essa exclusão seria um tiro no pé do projeto. E 50% da programação é brasileira, mais que o mercado consegue absorver, mais que o mostrado pelos streamings estrangeiros.
Do projeto original da Spcine, qual é o objetivo que deu melhores resultados? Fomento à produção e distribuição? Circuito exibidor alternativo? Spcine Play? Diálogo com a cidade?
Manevy – A avaliação é que os projetos mais bem pontuados são a SP Film Commission, que se transformou na segunda da América Latina, com milhares de liberações por ano. Capaz de atrair projetos do Brasil e do mundo para a cidade. E liberar ruas que antes eram literalmente proibidas para o cinema. Um absurdo. Há, também, números impressionantes de empregos gerados. E o circuito de cinemas, que alcançou 1,5 milhão de pessoas antes da pandemia, com projetores melhores que muitas salas comerciais. O que menos avançou, na minha gestão, foi a parceria Município-Estado. Uma pena, porque o projeto teria outra envergadura. Nunca entendi por que o Governo do Estado desistiu, em 2016, de fazer o acordo acontecer. Uma pena. De toda forma existe uma questão que é o tamanho do território da cidade, a enorme quantidade de equipamentos e como articular programação com outras linguagens. Uma sala de cinema em um biblioteca de bairro tem uma forma, no CCSP tem outra.
Depois da Última Sessão de Cinema – Spcine, Audiovisual e Democracia
Livro organizado por Alfredo Manevy e Fábio Maleronka
Lançamento nessa terça-feira, 3 de agosto, com debate virtual (com Laís Bodansky, Viviane Ferreira, Maurício Ramos e Alfredo Manevy), transmitido pelos canais da Editora Autonomia Lieterária, Livraria Blooks e Spcine, às 19h30
O livro, de 424 páginas, está à venda nas Livrarias Blooks e custa R$ 60