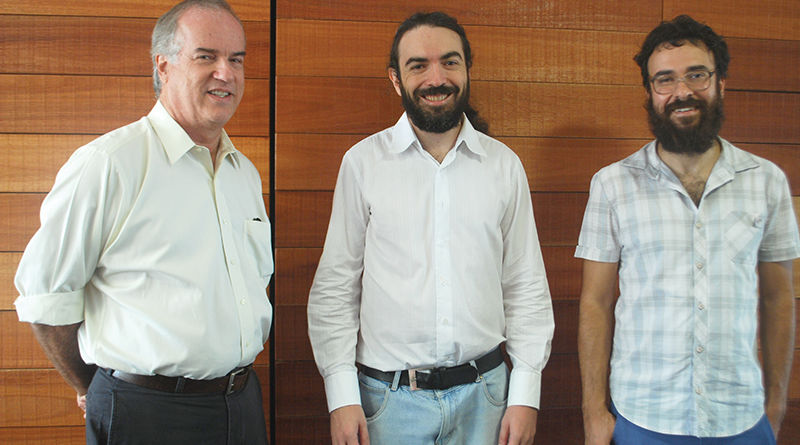Spcine: grandes expectativas
Instalada em dois andares do vasto prédio de concreto da Praça das Artes, complexo cultural erguido entre o Theatro Municipal e o Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, a Spcine tem a arquitetura a seu favor. O projeto assinado pelo escritório de Marcelo Ferraz, pupilo de Lina BoBardi (1914-1992), tem como marcas essenciais a amplitude de funções e as linhas livres.
Inaugurada em janeiro, a empresa conta com uma dotação de R$ 60 milhões – R$ 25 milhões já aportados pela prefeitura, R$ 15 milhões pela Ancine e R$ 25 milhões prometidos pelo Estado – e com uma vastidão de planos.
Os primeiros editais, lançados entre março e maio, são apenas, nas palavras do diretor-presidente Alfredo Manevy, uma ação emergencial. “Afinal de contas, são 15 ou 20 anos de ausência de uma instituição focada no cinema em São Paulo, e há uma demanda represada”, diz. “Mas não faz sentido, neste momento, construir uma miniagência de fomento em São Paulo. Se gastarmos energia só no emergencial e no fomento, corremos o risco de enxugar gelo. E não é esse o nosso plano.”
Para esmiuçar os planos da Spcine e explicar sua abrangência, Manevy sugeriu que se juntassem a ele, nesta conversa com a Revista de CINEMA, Mauricio Ramos, diretor de desenvolvimento econômico, e Renato Nery, diretor de inovação, criatividade e acesso. Em breve, um quarto nome se juntará à diretoria: Rodrigo Mathias, assessor de Marcelo Araújo na Secretaria de Estado da Cultura, que assumirá a diretoria e integração e internacionalização.
Na entrevista a seguir, Manevy, Ramos e Nery indicam o futuro da empresa e, ao mesmo tempo em que procuram amainar expectativas, fazem questão de deixar claro que suas ambições são, sim, grandes, e que seus objetivos é modificar a paisagem do audiovisual em São Paulo.
Revista de CINEMA – O setor parece apostar na Spcine, e muita gente acredita que ela, de fato, fará diferença no mercado. Como essa expectativa ecoa aqui? Vocês sentem que, em alguma medida, a expectativa é maior do que as reais possibilidades da empresa?
Alfredo Manevy – A sensação é a de que, realmente, a expectativa dos que realizam cinema, televisão e da própria cidade, é grande. Mas é muito melhor trabalhar com uma expectativa favorável do que o contrário. O ambiente positivo possibilitou o estabelecimento de um diálogo que ajudou a estruturar a empresa desde a aprovação do Projeto de Lei (PL), que envolvia um diálogo político, até sua efetiva implementação. Apesar de, ao longo do processo, terem surgido algumas divergências, houve sempre uma convergência no sentido de que a Spcine era necessária. Nós conseguimos, em um ano e meio, criar e inaugurar a empresa, atendendo a uma demanda que passou 20 anos represada. A parceria entre prefeitura, governo do Estado e governo federal reforçou a ideia de uma política que não seja cíclica, que não seja apenas um sopro. Isso tudo é um patrimônio de credibilidade com o qual a gente conta. Estabelecemos, desde o início, um diálogo com um comitê consultivo com representações de dez entidades da classe audiovisual. Tudo o que é discutido internamente é levado para esse comitê.
Revista de CINEMA – Você fala do diálogo, mas, mal foi apresentada a empresa, houve uma manifestação da ABD [Associação Brasileira de Documentaristas] contra o formato dos editais. Tendo em vista tudo isso que você estava falando, esse documento, bastante divulgado, surpreendeu vocês?
Alfredo Manevy – A manifestação é sempre positiva. O negativo, nesse caso, foi a falta de diálogo com que foi apresentado. O manifesto antecedeu os editais, ou seja, quem o assinou não tinha nem lido a proposta. Nós sabíamos que, a partir do momento em que a política fosse colocada na rua, iríamos lidar com diferentes visões de cinema e uma pluralidade de maneiras de pensar o audiovisual, mas o fato de a crítica ter saído antes mesmo de a proposta estar concluída fez com que o diálogo perdesse qualidade e ficasse refém da lógica do “não li e não gostei”. Nós, aqui, não vestimos carapuça porque nossa visão de cinema é abrangente: inclui o cinema de pequeno e médio porte, o curta, o grande lançamento, a televisão, a animação e os games. Temos uma proposta, mas queremos apresentá-la e discuti-la porque não somos donos da verdade e sabemos que o audiovisual é um ecossistema complexo. A defesa de um elo estrito, como se fosse um gueto, é algo que desconsidera a complexidade do processo criativo. Mas é fato também que, depois dessa manifestação, o diálogo avançou muito com a ABD. Inclusive, incorporamos uma sugestão deles, que é a de ter dois prêmios [de R$ 300 mil] para novos criadores que estejam realizando o primeiro ou o segundo filme.
Mauricio Ramos – Temos plena consciência das várias correntes e tendências no audiovisual e temos também consciência de que não temos recursos para atender a todas elas – sempre lembrando que, hoje, o audiovisual brasileiro tem uma enorme quantidade de recursos disponíveis. O que a gente não aceita é ser tachado de ter nascido com uma natureza X, Y ou Z. O Alfredo vem de uma linha de diálogo amplo, o que se comprova pela participação de todas essas entidades. Ao mesmo tempo, o próprio setor escolheu que a Spcine fosse uma empresa e, ao escolher isso, assumiu que não teria dotação orçamentária anual e deveria apresentar resultados. Ao mesmo tempo, todos sabem que o Alfredo e o Renato têm uma história no cinema paulista e que eu, no Rio, militei muito mais no cinema autoral do que no comercial. Ou seja, essa sensibilidade está toda na mesa. Mas nossa missão é mais complexa que isso. Tanto é assim que, já na primeira leva de recursos [R$ 30 milhões], serão premiadas três frentes: o cinema artístico, o cinema comercial e a televisão [foram reservados R$ 10 milhões para cada linha e os editais de cinema contemplam produção e distribuição].
Renato Nery – A dificuldade que se tem, quando se trata de trabalhar o todo com as entidades é que, até recentemente, o diálogo tinha acontecido sempre de modo isolado. Quando você junta essas unidades dentro de uma mesma perspectiva, ou seja, quando você faz com que o cara do curta entre em contato com o cara do cinema comercial ou dos jogos eletrônicos, a tendência, num primeiro momento, é que haja uma disputa ferrenha. Acho que o mais interessante desse processo é fazer com que as partes consigam enxergar o todo.

Revista de CINEMA – O Mauricio falou que, ao se fazer a opção por uma empresa, estava se fazendo uma série de outras opções. O que significa ser uma empresa? Em que modelo de negócios isso implica?
Alfredo Manevy – Para construir a Spcine, a gente estudou várias experiências: a Riofilme, o cinema pernambucano e o INCAA, da Argentina, que tem critérios para avaliar a performance artística e econômica e premiar o mérito.
Renato Nery – Estudamos também as empresas municipais, como São Paulo Urbanismo, a SPTuris e SPNegócios, para entender como elas trabalham demanda, metas e compromissos de desempenho institucional. Até contrato de iluminação pública analisamos.
Alfredo Manevy – O que diferencia uma empresa de uma Fundação ou de um Instituto é que ela tem de buscar resultados e que a receita deve compor seu orçamento futuro. Como se trata de audiovisual, o resultado não é só econômico. A empresa terá de mostrar para a cidade que o investimento retorna no reconhecimento público, na participação em festivais e na repercussão crítica. O essencial é ter uma grade de critérios que nos possibilite fazer uma análise de qualidade dos filmes. Não é porque o mercado rejeita um filme que ele é bom – e nem que é necessariamente ruim. A Spcine precisa ter sensibilidade para aquilo que o mercado quer e para aquilo que o mercado não quer. Isso nos leva a uma visão que vai além da dicotomia cinema de arte versus cinema de mercado. Arte e economia não são guetos, mas sim dimensões da produção. Um cinema que visa um grande público tem uma dimensão artística – de dramaturgia, de roteiro – e tem uma estratégia econômica. Um filme pequeno também tem sua economia.
Revista de CINEMA – A Spcine atuará diretamente na distribuição ou o envolvimento se dará sempre por meio de editais que apoiem distribuidoras independentes?
Alfredo Manevy – Num primeiro momento, vamos nos restringir ao fomento, porque temos distribuidores que atuam em diversas frentes. Mas, futuramente, queremos estimular pontos cegos da distribuição e, nesses casos, a Spcine poderia ser uma codistribuidora, entrar em parcerias, sem ser apenas um banco de fomento.
Mauricio Ramos – O pilar da Spcine é a produção do filme paulista e paulistano. No caso, os filmes de relevância artística, que são uma vocação natural da cidade. Precisamos investir em coisas correlatas à produção, como a distribuição, para que eles se realizem plenamente. Mas se, eventualmente, o produtor de um filme que busca uma performance comercial conseguir atrair um distribuidor internacional, o apoio, dependendo da linha, será avaliado. Claro que desejamos ajudar a desenvolver as distribuidoras de matriz paulista, mas a economia do setor não é somente isso.
Revista de CINEMA – O Alfredo falou em pontos cegos a serem estimulados. Que pontos são esses?
Alfredo Manevy – Vou dar três exemplos: a economia do filme de nicho, a relação de licenciamento para segmentos e territórios específicos do mercado internacional – como os Brics – e a realização de uma feira de negócios. Apesar de ser o centro do capitalismo brasileiro, São Paulo, nos últimos 20 anos, não fez sequer uma feira de negócios para cinema. Temos de trabalhar ao lado dos agentes do mercado para ajudar a organizar espaços que contribuam para o desenvolvimento do setor.
Revista de CINEMA – Já que estamos discutindo mercado, e passamos pela produção e distribuição, gostaria que vocês falassem agora do terceiro elo da cadeia: a exibição. Como está a organização do circuito anunciado no lançamento da empresa?
Alfredo Manevy – Estamos estruturando o programa e trabalhando no levantamento dos equipamentos da prefeitura [auditórios, anfiteatros, salas de cinema localizadas nos CEUs e bibliotecas] para comprar projetores e equipar as salas.
Mauricio Ramos – Estamos organizando uma mesa-redonda com exibidores para que eles opinem e, eventualmente, até se tornem parceiros. Essa não é uma empreitada fácil, demanda investimento, organização e gestão. Os equipamentos da prefeitura estão nas franjas da cidade, ou seja, a estruturação do circuito envolve uma logística que passa, por exemplo, pela ideia de cobrar ingressos. Para que? Para que haja uma valorização do que se está indo ver e para que o circuito tenha uma vida normativa e entre nas estatísticas do mercado. Estudamos também as possibilidades de parceria privada e de patrocínio na tela.
Renato Nery – Os desafios para esse circuito não são simples. No caso dos cinemas que fecharam no centro da cidade [Ipiranga, Art-Palácio e Paissandu], enfrentamos até dificuldades arquitetônicas. As salas são excessivamente grandes e o foyer, construído numa época na qual as pessoas ficavam na rua esperando o filme começar, é muito pequeno. Isso sem falar na falta de estacionamento. Em relação aos outros equipamentos, estamos fazendo um estudo detalhado do entorno porque sabemos que, para abrir um cinema, a sensação de segurança deve ser dada. É preciso ver se passa linha de ônibus, se tem iluminação, se tem escola perto. As futuras parcerias teriam de incorporar essas dimensões que não são as mesmas dos shopping centers.
Revista de CINEMA – Vocês acreditam que o cinema de rua pode mesmo voltar a ter relevância em São Paulo?
Alfredo Manevy – Acho que a cidade está passando por uma descompressão. Se a gente pensa que o carnaval de rua só foi liberado agora, depois de anos do poder público se omitindo do papel de mediar uma festa de rua com os moradores… A Spcine não está dissociada disso. Ela também representa uma inversão de valores. A tradição do cinema brasileiro é pedir subsídio para o Estado. Aqui, estamos buscando trabalhar a ideia do cinema e do audiovisual no desenvolvimento de São Paulo, na construção da autoestima e da imagem da cidade. O investimento público tem de representar a possibilidade de uma cidade melhor também no sentido simbólico. Não acho que é por acaso que a Spcine nasce com a política do carnaval e dos artistas de rua, com a reorganização da noite e com a ideia de que o silêncio tem de conviver com a alegria. É esse o debate que a cidade está enfrentando hoje. Onde isso vai dar? Que impacto essa redescoberta da cidade, essa liberdade de criar, terá no potencial criativo no cinema?
Revista de CINEMA – Qual é, para vocês, a vocação dos filmes de São Paulo? E por que, historicamente, há essa grande diferença em relação ao cinema do Rio?
Renato Nery – Quem nasce no Rio tem uma relação com o belo que é diferente daquela de quem nasce em São Paulo. A curva de aprendizado estético de quem nasce em uma ou em outra cidade é diferente. Acho que São Paulo contribui com um outro tipo de concepção criativa.
Mauricio Ramos – A atividade foi sempre mais importante no Rio. O Cinema Novo teve seu berço lá, e a Embrafilme se localizava lá. O cinema se cristaliza ali porque o Rio era a capital do país e foi uma capital cultural. São Paulo foi se desenvolvendo paralelamente a isso com um pujança econômica única. Mas, hoje, é inacreditável que, na área do audiovisual, a cidade não esteja reivindicando a importância que tem em todas as áreas. Também não podemos negar que a Globo tem suas raízes no Rio e que os gêneros que têm alcançado um público maior passam por uma identificação do público com a linguagem da televisão. Mas esses são momentos já cristalizados. E novos momentos estão surgindo. São Paulo, até defensivamente, desenvolveu um forte cinema de autor.
Revista de CINEMA – Repete-se, hoje, o lugar-comum de que só se faz comédia no Brasil – o que não é verdade. Mas qual seria o cinema comercial de São Paulo?
Alfredo Manevy – Eu não tenho nenhum preconceito contra a comédia ou o filme de gênero, e nunca é demais lembrar que diretores de Hollywood que, nos anos 1930 e 1940, fizeram o que era tido como lixo cultural, hoje são vistos como os grandes autores da era de ouro do cinema norte-americano. Então, é preciso cuidado na hora de julgar. Mas eu acho, sim, que é preciso diversificar a produção e que é possível ter outros gêneros que ainda não foram desenvolvidos no Brasil. Insisto apenas que a divisão entre cinema comercial e autoral é pobre. O conceito de cinema autoral foi criado pelos franceses para falar de Hollywood, e a autoria se constrói também numa relação com a sociedade. Não basta alguém dizer: “Sou autor”. Quem diz isso é o tempo. Também não dá para julgar no curto prazo uma produção que se diz comercial ou industrial. Seu caráter cultural será avaliado com o tempo. Mas quando se trata de dinheiro público é preciso ter critério: o filme precisa ter ou público ou repercussão crítica em festivais. Hector Babenco e Fernando Meirelles são exemplos de diretores que trabalharam tanto a dimensão econômica quanto a artística. E não podemos nos esquecer de que a comédia gerou Oscarito, Grande Otelo e, aqui em São Paulo, Mazaroppi. Parte do papel da Spcine é abrir essas discussões porque, tão importante quanto investir recursos, é melhorar os paradigmas de análise.
Mauricio Ramos – Se nós estivermos, nos próximos dez anos, produzindo no volume atual, a qualidade vai aumentar. E São Paulo vai vencer pela força econômica. Temos cada vez mais produtoras importantes, e eu acredito que a cidade vai se tornar um berço maior de roteiristas de qualidade que o Rio. Dos dez filmes mais vistos em 2014, cinco foram produzidos por empresas de São Paulo. “Loucas pra Casar” foi feita aos moldes dos filmes do Rio, mas o [Paulo] Bocatto e a Maíra [Lucas] são daqui; “Tim Maia” foi feito por uma produtora paulistana num modelo que não é o carioca; “Alemão”, apesar de se passar no Rio, também é uma produção paulista. Acho que, desse caldeirão, sairá um cinema comercial que ainda não sabemos qual é. O Roberto Moreira quer fazer um filme sobrenatural; a Anna [Muylaert] virou essa grande surpresa; e tem o filme do Daniel Ribeiro…
Alfredo Manevy – O filme do Daniel Ribeiro é um suposto filme de nicho que fez 200 mil espectadores. Isso reforça a ideia de que a ideia de filme de nicho é um corte da sociedade. São Paulo tem uma tradição, que vem dos anos 1960 e 1970, de filmes de baixo orçamento de boa qualidade. Esse é um patrimônio que queremos valorizar. O que nos preocupa são filmes com orçamento de R$ 5 milhões voltados para o nicho. É preciso enquadrar padrões de equivalência entre a meta de público e o orçamento. E uma questão estrutural que queremos atacar é a dos custos de se filmar em São Paulo. Nossa expectativa é que, com ações em formação de mão de obra e investimento em estrutura, a gente consiga ter um impacto sobre os orçamentos, que estão muito altos. Os editais resolvem a demanda imediata, mas acho que a Spcine tem de atacar em frentes diferentes das agências: ela precisa atuar na cidade, naquilo que impacta o dia a dia do produtor.

Revista de CINEMA – Para isso, vocês vão mexer na Film Commission? Porque ela continua na Secretaria [Municipal de Cultura], não?
Alfredo Manevy – Sim, o Ecine [Escritório de Cinema] continua na Secretaria, mas a gente sabe que é preciso reforçá-lo para oferecer um serviço de qualidade.
Renato Nery – A capacidade de operação do escritório ainda é muito baixa. Começamos a estudar os gargalos, e um dos problemas é que a cidade oferece muitos guichês: CET, Corpo de Bombeiros, Subprefeitura, Polícia Militar, Polícia Civil etc. Cada um autorizando um aspecto da filmagem. Além disso, para suportar uma escala compatível com o tamanho da cidade, o serviço precisa deixar de ser analógico. O Ecine libera cerca de 100 filmagens ao ano; a gente precisa aumentar isso para no mínimo 600, até mil. Para oferecer um serviço em escala, e de qualidade, pensamos num aplicativo no qual você dá início ao processo de autorização de maneira online. O produtor está fazendo a visita de locação e, ali mesmo, começa o processo. Hoje, 70% das informações passadas para a CET vão se repetir na Subprefeitura, ou seja, se tudo isso for colocado num mesmo formulário de entrada, já se reduz brutalmente a burocracia. Em Nova York, para você ter uma ideia, existe uma polícia específica para filmagens. Nosso plano é avançar nessa direção.
Revista de CINEMA – Eu gostaria que cada um definisse, de modo breve, o que vocês enxergam como o maior desafio da empresa para este ano.
Mauricio Ramos – Ser compreendida como ela é, com seus objetivos e propostas reais. Ela gerou uma expectativa muito grande e me parece que, na cabeça de algumas pessoas, ainda é um tanto difusa.
Renato Nery – Fazer com que os diferentes agentes entendam que lidamos com um grande complexo que precisa se movimentar junto.
Alfredo Manevy – Que a Spcine consiga firmar um planejamento de curto, médio e longo prazo, com uma perspectiva abrangente do audiovisual, que pense tanto a economia do pequeno e do médio quanto à qualidade do grande. E que seja, além disso, capaz de criar procedimentos, critérios e mecanismos que permitam o desenvolvimento do conjunto da atividade. Neste primeiro semestre, nos concentraremos em questões emergenciais, afinal de contas, são 15 ou 20 anos de ausência de uma instituição focada no cinema – a Riofilme existe há 20 anos. A partir do segundo semestre, vamos semear tarefas que vão germinar daqui a dois ou três anos: desenvolvimento de roteiro, formação de mão de obra, mudança no currículo nos cursos de cinema, programa de internacionalização. Não faz sentido, neste momento, construir uma miniagência de fomento em São Paulo. Não vamos concorrer com o Fundo Setorial do Audiovisual ou com a Riofilme. Ou a gente tem coragem de afirmar uma coisa diferente, de criar um cardápio de serviços e ações, ou só vamos atender o pão de cada dia que, como bem sabemos, sempre acaba por gerar frustração. Se gastarmos energia só no emergencial e no fomento, corremos o risco de enxugar gelo. E não é esse o nosso plano.
Por Ana Paula Sousa