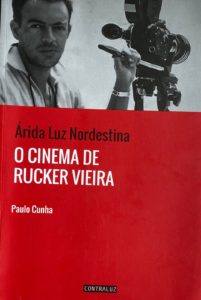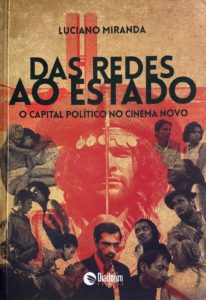Alinor Azevedo, defensor da música popular e de sua maior vitrine, o carnaval, é tema de livro publicado pela UFMG
Por Maria do Rosário Caetano
A música popular brasileira e sua maior vitrine, o carnaval, já fizeram parte de plataforma programática de dois defensores juramentados do cinema brasileiro – o roteirista Alinor Azevedo (1914-1974) e o pesquisador e cineasta Alex Viany (1918-1992). Para reavivar o tempo histórico em que estes dois combativos militantes do audiovisual brasileiro atuaram, o pesquisador, cineasta e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora Luís Alberto Rocha Melo escreveu o livro “Alinor Azevedo e o Cinema Carioca”, publicado em edição caprichada (e ilustrada) pela Editora da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).
O livro nasceu como dissertação de mestrado apresentada à UFF (Universidade Federal Fluminense), em 2006. Ninguém, pense, porém, que ao ler as 512 páginas de “Alinor Azevedo e o Cinema Carioca” estará se embaraçando num cipoal de jargões universitários, repetições cansativas e parágrafos sem fim. Nada disso.
A pesquisa traz o estilo elegante e aliciador de Luís Alberto, que foi crítico de cinema e hoje soma a seu ofício de professor universitário significativa carreira como cineasta. São de sua lavra uma boa quantidade de curtas e médias (“Que Cavação é Essa?”, “O Galante Rei da Boca”) e o longa-metragem “O Cangaceiro da Moviola”, sobre o montador Severino Dadá.
É prazeroso ler o livro. O estudioso ama seu personagem, o incansável Alinor, tão esquecido, mas não deixa de analisar com rigor suas ideias, argumentos, roteiros e contradições. Tudo que o carioca da gema escreveu para o cinema (argumentos ou roteiros de “Moleque Tião”, “Carnaval no Fogo”, “Também Somos Irmãos”, “Tudo Azul”, “Cidade Ameaçada”, “Assalto ao Trem Pagador”) e para jornais passa pelo rigoroso escrutínio de Luís Alberto.
Três filmes terão seus roteiros analisados com rara precisão. O desaparecido “Moleque Tião” (José Carlos Burle, 1943), uma espécie de biografia ficcionalizada de Grande Otelo, o melodrama racial “Também Somos Irmãos” (Burle, 1949), no qual Otelo, o moleque Tião, dá corpo a Miro, irmão marginal de advogado certinho, encarnado em Aguinaldo Camargo, e o filmusical que não queria parecer uma chanchada “Tudo Azul” (Fenelon, 1952).
Nos anexos do livro, o leitor encontrará descrição detalhada da ação de “Também Somos Irmãos”, sequência a sequência, transcrições do argumento de “Feitiço da Vila” (que não saiu do papel) e do roteiro de “Estouro na Praça” (outro filme de papel).
Por fim, encontrará detalhada filmografia do argumentista e roteirista Alinor Azevedo, que teve seu nome impresso nos créditos de 27 longas-metragens, sendo o último “Um Ramo para Luiza” (J.B. Tanko, 1965). Ele morreria anos depois, com apenas 59 anos.
Quem se interessar pela trajetória de Alinor Azevedo encontrará no livro de Luís Alberto alentada análise de um profissional do cinema brasileiro que, além de amar nossa cultura popular (a música, em especial), preocupava-se pioneiramente – como vemos acontecer em nossos dias – com a questão do racismo estrutural brasileiro. Seus principais filmes tematizaram o preconceito de cor. Um deles – “Também Somos Irmãos” – apresenta Aguinaldo Camargo como Renato, negro educado, formado em advocacia, que se apaixona por sua irmã de criação, Martha, moça branca, de pele muito alva (Vera Nunes). Um amor impossível. Ele é irmão de Miro (Grande Otelo), que vive na marginalidade.

Quem não conhece “Cidade Ameaçada” (1960 ) e “Assalto ao Trem Pagador” (1962), dramas policiais de Roberto Farias?
A contribuição de Alinor Azevedo a estes dois filmes é das mais significativas. Ambos baseiam-se em personagens da crônica policial. O primeiro, em Promessinha. O segundo, no bando de Tião Medonho (Eliézer Gomes), que promoveu assalto a trem pagador da Central do Brasil, atuando como líder de negros (Grande Otelo, Clementino Quelé) e brancos (Reginaldo Farias, com olhos azuis que “os peixes iriam comer”).
Roberto Farias e seu coprodutor Luiz Carlos Barreto discutiram o roteiro, a partir de argumento de Alinor Azevedo. Que, por sua vez, fez sugestões ao script final. Tião Medonho é casado com Zulmira (Luiza Maranhão), bela e elegante, e tem uma amante, Judith (Ruth de Souza). Duas grandes atrizes negras.
Grande Otelo, o Cachaça, integrante do bando, gosta de beber (daí o apelido) e, por isso, tem que ser controlado para não gastar o fruto do roubo de forma ostensiva a ponto de gerar desconfiança, nem dar com a língua nos dentes. Bêbado, trêbedo, ele construirá uma das mais belas sequências da história do cinema brasileiro. De antologia. Profere monólogo na favela, enquanto ao fundo passa enterro de uma criança, servindo de contra-exemplo ao que Robert Stam, pesquisador e professor da Universidade de Nova York, definiu como dificuldades da produção brasileira de décadas atrás (filmar brigas, bêbados e cenas de sexo).
Em famoso depoimento ao MIS-Rio (Museu da Imagem do Som), gravado em agosto de 1969, Alinor Azevedo relembrou sua experiência como um dos roteiristas de “Assalto ao Trem Pagador”: “Roberto Farias construiu a fita, escreveu toda ela (a história). Então, eu ouvi esta história e fiquei anotando algumas coisinhas rapidamente, enquanto ele lia. Quando acabou, eu disse: ‘o principal disso tudo você não fez. É este contraste do negro e do branco’. Os negros assaltantes são pobres, tão miseráveis, tão favelados que não podem gastar o dinheiro do assalto. Isto é o mais importante nessa fita, porque fitas de assaltos existem milhares, mas com essa nuance é uma coisa fora do comum. (…) O único que pôde gastar foi o branco, que diz para o Tião Medonho: ‘eu posso gastar, porque sou branco, eu tenho olho azul!”. Aquele diálogo foi meu”.
Luís Alberto Rocha Melo não se ocupou dos dois longas de Roberto Farias, porque seu foco eram os filmes que tiveram Alinor como “roteirista-autor”, conceito que dará origem a ótimas reflexões no capítulo “Alinor Azevedo e o ‘Realismo Carioca’ – A Releitura Histórica de Glauber Rocha”, construído a partir de análise crítica do longo ensaio assinado pelo cineasta baiano, que nutria enorme respeito por Alinor Azevedo, Alex Viany e Nelson Pereira dos Santos (este começou no cinema como assistente de Alex, em “Agulha no Palheiro”, de 1952).
O professor da UFJF promoverá, nos oito capítulos do livro publicado pela UFMG, verdadeira exegese de “Revisão Crítica do Cinema Brasileiro” (Civilização Brasileira, 1964), no qual Glauber analisou a história do cinema brasileiro como missionário da construção de potente manifesto em favor do Cinema Novo, autoral, em contraponto à chanchada (que chega a desqualificar como “pornografia a baixo preço”) e ao europeizado e industrialista modelo da Vera Cruz.
Glauber se interessava pela teoria do “cinema de autor” (a mise-en-scène e não o roteiro, peça literária, como base de um filme) defendida pela Nouvelle Vague francesa, mas, ao contrária desta (pouco interessada na História e na Política), o arauto do Cinema Novo defendia “a historicização da política”.
Outra diferença apontada por Luís Alberto: “Glauber voltava suas atenções à questão nacional”, ao Brasil e seus desafios, ao cinema brasileiro. Já os franceses tinham a questão nacional “totalmente ausente de suas perspectivas”. Tanto que “aplicavam a política dos autores onde menos se esperava, isto é, em Hollywood, ao mesmo tempo em que atacavam o chamado ‘cinema de tradição de qualidade’ francês (cinéma de qualité)”.
Hora de nos atermos a outro ponto fulcral do livro “Alinor Azevedo e o Cinema Carioca”: o desejo do roteirista e de seu aliado Alex Viany de criar-erigir “programa estético e temático para um futuro cinema popular-brasileiro”. Um cinema que teria a favela e seus moradores (muitos deles afro-brasileiros) como personagens. E sua maior expressão cultural – a música popular e sua grande vitrine (o carnaval) – como fontes fertilizadoras. Alinor, porém, não tinha como meta realizar chanchadas, mas sim dramas e filmes musicais (se a música fosse necessária), com acentuada pegada social. Simpatizante das ideias de esquerda (que tinham na revista “Diretrizes”, no escritor Jorge Amado, no casal Jorge Goulart-Nora Ney e no cineasta Alex Viany, militantes da linha de frente), Alinor criava argumentos e roteiros para filmes de grande empenho artístico e social.
Seus roteiros mais elaborados e complexos não deveriam (essa era sua intenção) ser interrompidos a todo momento para que uma estrela (Emilinha Borba, Marlene, Adelaide Chiozzo, Francisco Carlos, Ivon Cury, Blecaute) cantasse uma marchinha, gênero dominante nos salões carnavalescos e nas rádios. Ou um samba-enredo (que tomaria conta do carnaval a partir dos anos 1960).
Por sonhar tal sonho, Alinor foi transformando-se em um “roteirista de papel”. Ou seja, deixou de ser o “roteirista-autor” para tornar-se “roteirista-colaborador” de muitos projetos, alguns inéditos até hoje. Ele viu seus argumentos e roteiros pessoais relegados às gavetas. Por sorte, pôde contar, 32 anos depois de sua morte, com um abnegado pesquisador, que resgatou sua imensa colaboração ao cinema brasileiro, mesmo que muitos dos seus sonhos não tenham se tornado realidade.
A EdUFMG marcou um gol de placa ao lançar esse livro que tem prefácio do professor da UFSCar, Arthur Autran (especialista na obra de Alex Viany), projeto gráfico de Cássio Ribeiro (bela capa em preto-branco-e-amarelo, com vistosa e elegante foto de Alinor), além de muitas imagens do artista, sozinho ou com parceiros no jornalismo e no cinema (todas pertencentes ao acervo de sua filha, Vânia Azevedo).
Vale, por fim, destacar fato de imenso relevo para refrescar memórias esquecidas: Alinor Azevedo foi um dos pilares (idealizador e sócio) da primeira Atlântida, que foi comprada pelo Grupo Severiano Ribeiro, em 1947, e produziu as mais importantes (e tardiamente revalorizadas) chanchadas brasileiras. Em setembro de 1941, Alinor, ao lado dos irmão Burle (José Carlos e Paulo), de Arnaldo Farias e do grande Moacyr Fenelon (1903-1953) ergueu (com manifesto e tudo) o sonho de uma produtora que pretendia mudar a história do cinema brasileiro e deixou, na soma de suas duas fases, 66 filmes. Não conseguiu dar firmeza a um cinema fincado em “roteiros-autorais”. Mas sonhou um belo sonho.
OUTROS LIVROS RECÉM-LANÇADOS:
. “Árida Luz Nordestina – O Cinema de Rucker Vieira”, de Paulo Cunha, Editora Contraluz (Pernambuco, 2022), 356 páginas. Projeto gráfico de Hannah Sá (fartamente ilustrado). O autor, professor da UFPE, resgata a trajetória do diretor de fotografia e documentarista pernambucano Rucker Vieira (1931-2001), autor das imagens de “Aruanda” (Linduarte Noronha, 1960) e diretor do seminal “A Cabra na Região Semi-Árida” e de “À Memória de Delmiro Gouveia” (1962). Em 1984, o cineasta e teórico do futuro movimento “Árido Movie”, Amin Stepple, dirigiu o curta “O Incrível Rucker”, exibido pela Rede Globo Nordeste. Prefácio do cineasta, poeta e crítico de arte Fernando Monteiro.
. “Das Redes ao Estado – O Capital Político do Cinema Novo”, de Luciano Miranda, professor da UFRGS, Diadorim Editora (Rio Grande do Sul, 2002), 358 páginas. O livro parte da constatação de que “o cinema e a política quase sempre estabelecem relação entre si”. No entanto, “com frequência, essas relações se restringiam àquelas junto a aparelhos do Estado, a fim de que fossem atendidas demandas para a manutenção da atividade cinematográfica”. Nos anos 1960, “os cineastas passaram a aderir a ideias que visavam a intervir na sociedade com o objetivo de transformá-la. Ao cinema já não bastava a adesão àquelas ideias, ele mesmo deveria compromissar-se em ser instrumento de transformação”. Projeto e capa (excelente) de Flávio Wild. Ilustrações-colagem separam os cinco partes do volume (Gênese Social do Núcleo Duro dos Cineastas, Legado dos Modernistas e Suas Redes, Sociabilidade Política e Adaptação à Ditadura, Internacionalização do Espaço de Atuação dos Cineastas, Do ‘Fim’ do Cinema Novo à Direção da Embrafilme).
. “Um Certo Cinema Gaúcho de Porto Alegre – Ou Como o Cinema Imagina a Capital dos Gaúchos”, de Boca Migotto, Editora Pragmatha, Rio Grande do Sul, 2022), 522 páginas. O cineasta-pesquisador analisa dez longas-metragens, todos urbanos (esqueçam o “cinema de bombacha”). São eles: “Mulher do Pai”, de Cristiane Oliveira, “Cão sem Dono”, de Beto Brant e Renato Ciasca, “Ainda Orangotangos” e “Morro do Céu”, ambos de Gustavo Spolidoro, “A Última Estrada da Praia”, de Fabiano Souza, “Castanha” e “Rifle”, ambos de Davi Preto, “Dromedário no Asfalto”, de Gilson Vargas, e “”Beira-Mar” e “Tinta Bruta”, ambos de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher. Prefácio de Miriam de Souza Rossini, professora da UFRGS.
. “Cinema, Circuitos Culturais e Espaços Formativos – Novas Sociabilidades e Ambiência na Bahia (1968-1978), de Izabel de Fátima Cruz Melo, EdUneb (Editora da Universidade do Estado da Bahia, 2022), 250 páginas. Sem fotos. A autora estuda três espaços (redes históricas) de formação cinematográfica na Salvador das décadas de 1960 e 70 – o Clube de Cinema da Bahia, comandado por Walter da Silveira, o Grupo Experimental de Cinema (que uniu Silveira a Guido Araújo) e a Jornada de Cinema da Bahia (criada por Guido Araújo e que somaria 40 edições). Prefácio de Eduardo Morettin, professor da USP.